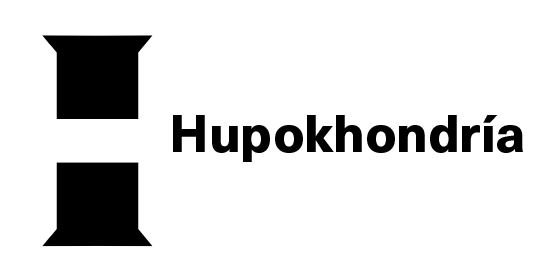Você se lembra exatamente do dia em que perdeu a voz. Não pode dizê-lo, obviamente, porque a perdeu. Gostaria de gritar para que todos ouvissem: Perdi a voz no dia 5 de fevereiro de 97 e, embora fosse verão, estava frio. Mas não pode, porque perdeu a voz. E, se não há voz, não existe eu nesta história. Só você.
Tudo bem, você pode existir mesmo sem voz. Pode se lembrar em silêncio. E se lembra. Foi no dia 5 de fevereiro de 97 e, embora fosse verão, estava frio. Muito. Talvez porque só fosse verão na sua cabeça ainda acostumada aos horários de outra parte do mundo. Você atravessara o oceano, cruzara os dois trópicos, mas ainda se prendia às percepções que aprendera na infância como um menino que se agarra ao cobertor para não sair da cama. Fevereiro é verão para você e nenhum frio do universo conseguiria convencê-lo do contrário. Ou a largar o velho cobertor do costume que protege do desconhecido.
Acontece que, naquele 5 de fevereiro, no seu verão imaginário-emocional, a coberta foi arrancada e até nevava. Você nunca tinha visto neve e, por isso, olhava boquiaberto. Aquele deveria ter sido um primeiro sinal, o fato de você não ter conseguido falar nada, nem um sussurro, nem um suspiro, somente um olhar embasbacado. Deveria, mas não foi. Naquele momento, ao contrário, pensando apenas em por que diabos está nevando enquanto aqui ainda é verão, veja você, você sequer percebeu a voz congelando e o eu derretendo na mesma proporção.
Era manhã e aquela neve parecia durar uma noite e um dia. Você caminhou por aquelas ruas pela primeira vez, suas primeiras ruas, a caminho da casa que, você esperava, logo fosse chamar de casa, e viu os primeiros carros e ouviu as primeiras buzinas e sentiu as primeiras — muitas — pessoas caminharem apressadas, e nem eram bem pessoas, só um amontoado sem rosto de blusas, casacos, luvas, gorros, cachecóis. E, como essas pessoas não falaram com você (sinal número dois), você não sentiu necessidade de falar também.
Quando teve fome, parou, apontou, pegou, comeu, pagou o preço que estava escrito na plaqueta no balcão e sequer respondeu ao bom-dia, boa-tarde, boa-noite (sabia lá você que horas eram naquele dia tão escuro!) que tampouco alguém te deu. Talvez essas pessoas de nylon e lã não tenham voz, você pensou, na maior ironia de todas, mesmo que você ainda não soubesse disso.
Muitas foram as vezes que você tentou se recordar do que aconteceu em seguida. Tem consciência de que andou mais um pouco, de que sentiu cansaço, um pouco de solidão, um leve desespero porque a tal casa não chegava nunca, uma vontade insana de entrar num dos carros amarelos que eram muitos e que deveriam parar, mas que também não paravam nunca, mesmo que você quase tenha deslocado seu braço de tanto gesticular para eles. Mas, tudo certo, a cidade era diferente, os carros provavelmente não tinham sido treinados para compreender a linguagem dos gestos. Você não gritou, não bufou, não xingou putaquepariuquefriodaporra, não percebeu que esse era o sinal número três. Você sabe disso hoje, mas não soube quando você ainda tinha chances de ser um eu.
Assim, como não era mais eu, só um você manipulável, marionete do destino, deixou que a multidão de lã e nylon te arrastasse escadas abaixo, metrô acima, trilhos e trilhos e trilhos à frente. Você não sabia onde saltar, porém, e aquela voz que saía dos alto-falantes a cada estação não falava nenhuma língua que você conhecesse. A língua daquele alto-falante arrancou definitivamente a sua.
Táscia Souza