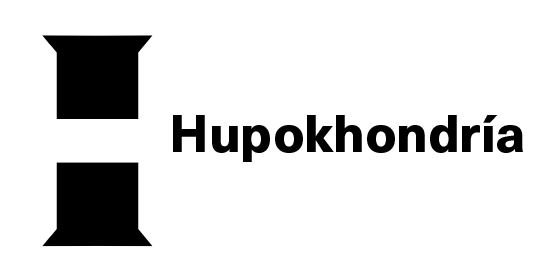Antes de desaparecerem pessoas, tinha desaparecido a montanha. A mãe contava que foi depois que os aviões com o símbolo da nova empresa que se instalara sobrevoaram baixo a região. A eles, seguiu-se a chegada das máquinas gigantescas, ainda mais colossais aos seus olhos de menina. Depois vieram as escavações, as barragens, o barulho dos equipamentos, as explosões que faziam tremer as paredes e que derrubaram no chão o quadro ovalado sobre a porta que exibia a foto do casamento da avó e do avô. Retrato batido ao ar livre, a montanha de fundo, à beira do rio. Naquela primeira vez, segundo a mãe, os cacos de vidro se misturaram ao pó preto repleto de partículas luminosas que cobria tudo. Até os lábios da avó, trêmulos de dor, enquanto seu lado da foto, juntamente com a paisagem de fundo, esmaecia-se no chão.
Incríveis as coisas às quais o ser humano se habitua. Ruídos ensurdecedores; cacos quebrados de vidros, de paisagens ou de relações; um antes inteiro reduzido a pó. A doença da avó era cotidiana. O pó também. Ela pairava sobre a cama, pousava-se em seus olhos doloridos de um socorro mudo, incrustava-se no quarto lúgubre desde que eu me entendia por gente. O pó pairava no ar, pousava nos móveis, incrustava-se na sola dos pés. Não sabíamos o que era não ter a avó enferma, assim como não sabíamos o que era não ter os pés cor de grafite, como se aquela fosse a natureza da própria pele ali embaixo, cinzenta, mas também parecendo quase brilhante, metalizada. Tínhamos pés de ferro, assim como ferruginosa era a água que bebíamos e, mesmo que na escola tivessem explicado que a oxirredução era um fenômeno inverso, enferrujado era o oxigênio que respirávamos. Eu nunca notara que sangue também tinha gosto de ferrugem, até aquele dia.
Não lembro o que veio primeiro, se o estouro ou os gritos. A única certeza é a de que não foi o alarme, que só mais tarde saberíamos não ter soado por ter sido uma das primeiras coisas engolfadas pela lama. O alarme e as ruas. O alarme e as casas da várzea. O alarme e os carros. O alarme e os animais domésticos. O alarme e centenas de pessoas. Ilhados no topo do morro do qual havia anos também tentavam nos tirar — para, com outros tantos anos, tirarem-no de nós — observamos da janela a lama varrer todo o vale. Do quarto, com uma voz que eu nunca ouvira a não ser em gemidos, a avó também gritou.
Watu! Watu!
E os berros no vale.
Calma, avó. Não vai chegar aqui. A lama não vai chegar aqui.
E o choro na sala.
O avô! Watu!
Respira, avó. Respira.
A lama… Matou Watu. A lama matou o avô.
Quis dizer-lhe que o avô morrera havia muito. Que a mina levara o avô bem antes da lama. Que o avô era apenas um retrato numa fotografia sem vidro sobre a porta. Mordi a língua, sem conseguir, e o sabor do ferro inundou minha boca. Em seus olhos abertos, e depois definitivamente fechados, o desespero.
Quando a mãe entrou no quarto, rosto molhado e moldura ovalada em punho, o avô tinha se apagado da foto. O rio também.
Táscia Souza